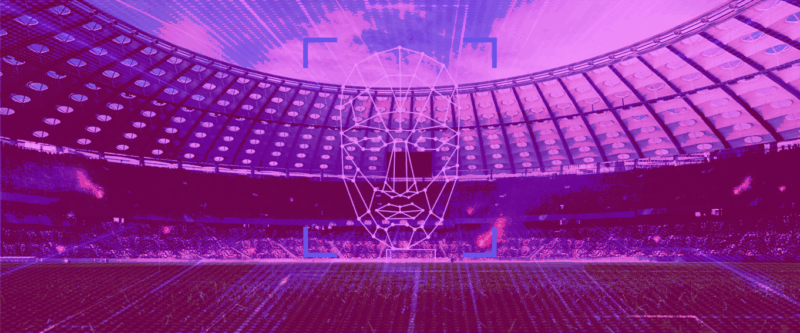 Blog
Blog
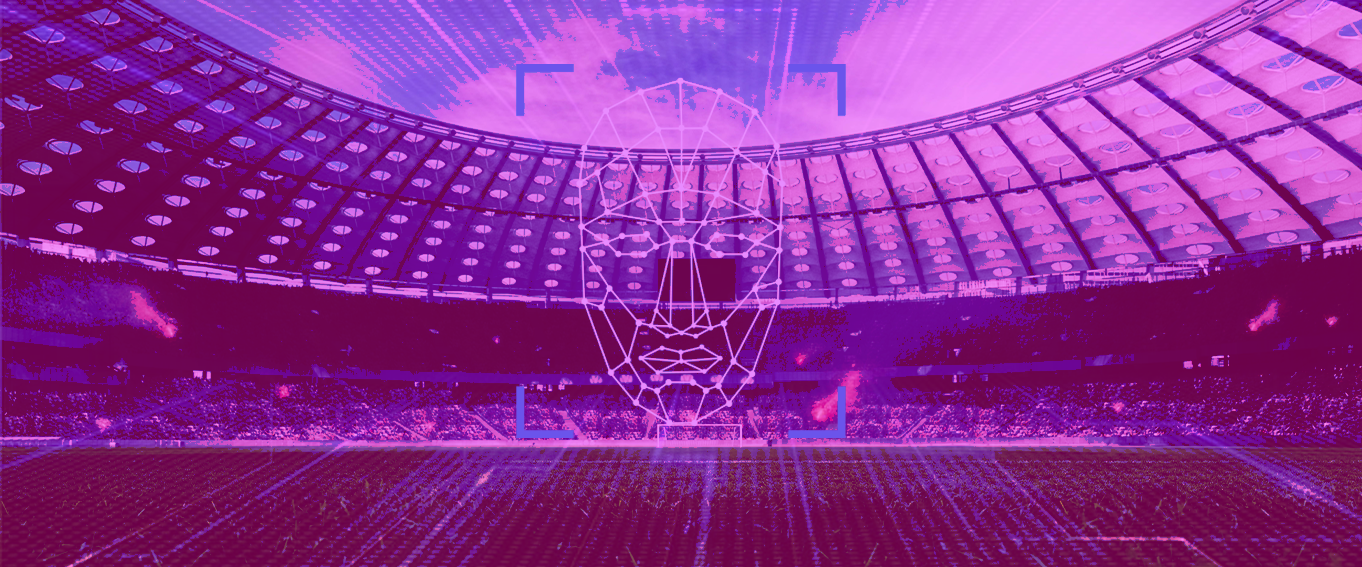
Publicado em: 12 de maio de 2025
Não havia como saber se estava sendo vigiado a qualquer momento. (…) Mas, de qualquer forma, eles podiam te observar sempre que quisessem.
— George Orwell, 1984 [1]
No Brasil, o futebol é mais que esporte: é cultura, memória, identidade coletiva. É também espaço de resistência e pertencimento. Nesse contexto, a obrigatoriedade do reconhecimento facial nos estádios — imposta pela Lei Geral do Esporte (Lei 14.597/2023)[2] — não é uma medida neutra de segurança. É um projeto de vigilância em larga escala que afeta milhões, sem garantias reais de proteção de dados, transparência ou controle democrático.
O artigo 144, §2º, exige que os clubes implantem “tecnologia de reconhecimento facial para identificação dos torcedores”. A lei não impõe salvaguardas robustas de proteção de dados, não prevê auditorias independentes, nem mecanismos efetivos de contestação de erros, transferindo a responsabilidade da segurança para dispositivos automatizados. A ausência de debates públicos amplos sobre essa obrigação é alarmante: sob o discurso da segurança, institui-se um regime de vigilância permanente sobre corpos coletivos, populares e racializados, sem consentimento, transparência real ou controle democrático.
A vigilância no futebol não é uma invenção brasileira. Nos anos 1980, o Reino Unido enfrentava uma grave crise econômica e a classe trabalhadora, organizada em sindicatos poderosos, ocupava as ruas em greves e protestos e, nos fins de semana, lotava os estádios de futebol, ainda profundamente ligados à cultura operária. Para o governo conservador, essas multidões representavam tanto um problema político quanto social: eram vistas como focos de resistência e desordem.
Distante de compreender o fenômeno da coletividade, visto que de acordo com Margaret Thatcher “não existe essa coisa chamada sociedade, apenas indivíduos e suas famílias”[3], episódios trágicos como os desastres de Heysel (1985)[4] e de Hillsborough (1989)[5], foram usados para implementar uma reforma autoritária nos estádios ingleses. Sob o discurso da segurança e do combate ao “hooliganismo”[6], medidas duras que visavam mais ao controle social do que à proteção dos torcedores foram promovidas. Com o banimento do consumo de álcool nos jogos, a instalação de câmeras de vigilância em dezenas de estádios, o endurecimento no controle de acesso, e o apoio à extradição de torcedores, foi criado um pacote que buscava quebrar a força dos coletivos populares.
O resultado foi a transformação radical do futebol inglês: com o Relatório Taylor [7] extinguiram-se os setores de arquibancadas populares (“terraces”), aumentaram-se os preços dos ingressos, e os estádios foram reformados para acolher um novo público, mais branco, mais rico e mais “civilizado”[8]. A cultura viva dos torcedores – o canto, o corpo, o encontro – foi substituída por consumidores silenciosos, sentados em cadeiras numeradas, sob vigilância constante.
Thatcher não apenas reprimiu o futebol; ela o redesenhou para que deixasse de ser um espaço de identidade coletiva e se tornasse um negócio privado, adequado ao seu projeto neoliberal. Como observa Anthony King, o impacto das políticas implementadas foi devastador, pois transformou profundamente a natureza do futebol britânico, alterando sua conexão com a cultura popular e suas bases tradicionais [8]. Essa história importa porque revela o passo a passo de uma lógica higienista que, sob o pretexto da segurança, destroi expressões coletivas e populares para transformá-las em produtos elitizados, excluindo corpos considerados indesejáveis. Uma trajetória que ajuda a entender riscos semelhantes no Brasil contemporâneo.
A imposição do reconhecimento facial nos estádios brasileiros repete essa lógica. Sob o argumento falacioso de que “quem não deve, não teme”, abandona-se a luta pelo direito à privacidade e intimidade. Como lembra David Lyon, um dos principais estudiosos da cultura da vigilância, privacidade não é esconderijo para crimes, e sim a proteção da liberdade, da dignidade e da possibilidade de agir sem medo[9].
Aceitar a lógica de que a inocência anula o direito à privacidade é inverter a presunção de inocência: não é mais o Estado que deve provar a culpa, mas o indivíduo que precisa se provar permanentemente inocente diante de câmeras e algoritmos. O verdadeiro ônus da vigilância não é apenas a coleta de dados: é a transformação da vida pública em espaço de autocensura e medo. Como explica Lyon, a consciência de ser vigiado muda comportamentos de maneira profunda, mesmo sem necessidade de coerção direta [9]. No futebol, isso significa a inibição do canto, da manifestação, da festa – exatamente o que torna a arquibancada um espaço de potência popular.
Exigir privacidade não é esconder culpa, e sim proteger a liberdade de ser, existir e resistir. E futebol é política e resistência. As torcidas e os coletivos antifascistas sabem disso. Eles constroem solidariedade nas ruas, distribuem alimentos, organizam ações antirracistas e carregam faixas em defesa da democracia[10]. Não à toa, são alvo preferencial das políticas de vigilância.
Essa tentativa de sufocar a coletividade atinge direitos fundamentais. Entre eles, o livre desenvolvimento da personalidade, princípio que garante a cada pessoa a liberdade de construir sua identidade e existir como sujeito de direitos que, no Brasil, integra o núcleo essencial da dignidade humana. O reconhecimento facial, a triste bola da vez como tecnologia preferida, fere esse princípio ao obrigar a entrega da imagem sem consentimento real, inibindo comportamentos espontâneos e transformando torcedores em dados monitoráveis. Quando a presença em um estádio exige o sacrifício da autonomia sobre o próprio corpo, não se perde apenas o lazer, perde-se o direito de ser.
A história comprova: o futebol brasileiro sempre foi espaço de protagonismo social. Durante a ditadura militar, a Democracia Corinthiana, liderada por Sócrates e Wladimir, fez do futebol trincheira política — decidindo coletivamente os rumos do time, exigindo eleições no clube e transformando a camisa preta e branca em símbolo de resistência[11]. Essa tradição não morreu. Ela se reinventa nas arquibancadas e nas ruas. No auge da pandemia, quando o Estado falhou, foram torcidas organizadas que distribuíram comida e apoio[12]. Nos últimos anos, ocuparam as ruas para enfrentar o extremismo e defender a democracia [13]. E é por incomodarem tanto que hoje tentam domesticá-las através da vigilância, censura e repressão.
Contudo, é necessário afirmar de maneira evidente: a violência no futebol existe, e trata-se de um problema sério, ao mesmo tempo em que também é preciso resistir à tentação de usar esse fato como justificativa para aprofundar políticas de vigilância que apenas deslocam o problema, sem enfrentá-lo de fato.
O caso recente de brutalidade entre torcidas do Sport e do Santa Cruz, em Recife [14], não foi uma explosão súbita: foi uma barbárie anunciada, construída por uma sequência de negligências, estímulos ao confronto e ausência de mediação. Esse tipo de violência não é resolvido com câmeras inteligentes no estádio, porque ela nasce muito antes da catraca, muito antes do jogo começar. Ela se alimenta da lógica da guerra, da rivalidade instrumentalizada, da desigualdade territorial, do abandono do Estado.
Dentro dos estádios, a regra é o encontro, não a violência. Medidas como o reconhecimento facial servem apenas para dar respostas rápidas, mas ineficazes, ao problema. No fundo, não resolvem a raiz da violência e ainda impõem ao torcedor comum um alto custo: mais vigilância, menos direitos, e nenhuma garantia real de paz nos estádios.
E isso se agrava num cenário em que o futebol, enquanto indústria, já se mostra estruturalmente omisso diante da violência racista. Episódios como os ataques contra o jogador Luighi, que levaram o MPF a investigar a CBF[15], revelam como as instituições preferem silenciar o problema a enfrentá-lo. Se mesmo figuras centrais do espetáculo – jogadores – são negligenciadas em suas denúncias, o que esperar do tratamento dado às torcidas, aos corpos coletivos, aos torcedores comuns?
A prática atual já demonstra a seletividade: punições ineficazes e desproporcionais são rapidamente aplicadas contra torcidas, como a proibição informal, porém efetiva, que impede torcedores do Santa Cruz de cantar músicas e usar vestimentas do clube em jogos como visitantes [16]. Mas qual é a lógica por trás disso? O que se pretende impedir? A música, o símbolo, a identidade? Espera-se, com essas medidas, resolver a violência que nasce muito antes do estádio? É evidente que não. Trata-se, antes, da tentativa de apagar manifestações culturais populares, de sufocar a expressão coletiva sob o pretexto de segurança. Criminalizar o canto, o uniforme, o pertencimento – isso sim é violência institucionalizada.
É nesse contexto que a introdução de tecnologias de vigilância algorítmica se torna ainda mais perigosa. Porque não estamos partindo do zero. Estamos inserindo ferramentas supostamente neutras em um terreno historicamente desigual. E o risco é que o reconhecimento facial – vendido como infalível – sirva como “respaldo científico” para a perpetuação e aprofundamento da seletividade racial e social já existentes.
E a promessa para justificar isso é a segurança. Mas os fatos mostram outra coisa: sistemas erram, e erram mais com pessoas negras, mulheres e pessoas trans[17]. O caso do torcedor abordado violentamente após uma identificação errada[18], é apenas um entre tantos. Outro caso “isolado” como o do jovem negro detido injustamente por erro do sistema facial da PM[19] mostram que o racismo de sempre apenas ganha nova roupagem, agora com a chancela da ciência e a impunidade de sempre.
E se fosse você, abordado, humilhado, levado preso por um erro do sistema? O reconhecimento facial não protege: criminaliza. Faz da exceção uma rotina e do erro uma política de Estado. Em nome de uma segurança que nunca se cumpre, aceitamos o risco de destruir vidas – especialmente as mesmas vidas negras, periféricas, dissidentes de sempre. Enquanto a única resposta continuar sendo o monitoramento, o problema seguirá sendo apenas reconfigurado, nunca enfrentado de verdade.
Quando falamos que o reconhecimento facial nos estádios viola direitos fundamentais conquistados com muita luta popular, estamos falando de um ataque direto e sistemático a vários direitos. O direito à privacidade e à proteção de dados é ferido quando os dados biométricos são coletados sem consentimento livre, informado e esclarecido. A liberdade de expressão e de manifestação é restringida porque o medo da vigilância inibe cantos, faixas e gestos políticos. O direito ao lazer e ao livre desenvolvimento da personalidade é achatado, transformando a vivência no estádio em uma experiência monitorada, mercantilizada e despolitizada.
E não para aí: também estão em risco a igualdade (diante dos erros discriminatórios dos sistemas), a honra e a imagem (violadas com a coleta e venda de imagens não autorizadas), a liberdade de reunião (inibida pela vigilância em protestos e manifestações) e o próprio acesso à informação sobre como nossos dados são usados, o que fere o princípio da transparência. A lógica instaurada também compromete a presunção de inocência e o devido processo legal, pois a vigilância trata todos como suspeitos em potencial. Em última instância, o reconhecimento facial mina a dignidade da pessoa humana, reduzindo corpos a objetos de controle.
A ida ao estádio deixou de ser uma experiência coletiva para se tornar uma jornada de rastreamento individualizado. O sistema exige que o torcedor entregue seu rosto, seu CPF, seus dados bancários, sua imagem, sua identidade. Tudo isso para acessar um espaço público de lazer. A implementação do reconhecimento facial no futebol brasileiro não se limita ao discurso de “segurança”, mas está profundamente ligada ao impulso de mercantilizar o esporte e seus participantes.
Em um contexto neoliberal, clubes e empresas buscam transformar a experiência do torcedor em dados valiosos para monetização. A coleta massiva de informações biométricas é uma extensão da indústria de dados, onde empresas de tecnologia, como as fornecedoras dos sistemas de reconhecimento facial, lucram com a vigilância. Isso se alinha à lógica de tornar o futebol um negócio privado, onde cada interação, até mesmo a simples presença nas arquibancadas, é convertida em capital.
As empresas que fornecem essas tecnologias não só gerenciam a segurança, mas também exploram os dados pessoais coletados para perfis de consumidores, otimizando campanhas publicitárias e estratégias de venda. O rosto do torcedor, antes expressão de paixão e pertencimento, vira dado comercializado. Casos como o da plataforma “Sua Foto no Jogo”[20] mostram como a imagem capturada compulsoriamente é convertida em mercadoria: câmeras instaladas em estádios, que deveriam ter como foco a segurança, registram e catalogam rostos sem autorização, e depois oferecem essas imagens como produto. A imagem, antes expressão espontânea de paixão, vira insumo comercial. O futebol vira vitrine para uma indústria de dados que transforma o espaço público em um mercado de rostos. O torcedor deixa de ser um sujeito cultural, para se tornar um produto no mercado de dados. Esse processo demonstra como a vigilância se adapta a uma lógica de mercado, onde a segurança é apenas uma fachada para a maximização do lucro.
E não se trata apenas de exploração econômica: Trata-se de um novo tipo de cerceamento simbólico: o torcedor não tem mais controle sobre sua imagem, sua presença, sua memória. Tudo vira dado a ser comprado, vendido, rastreado. Diante de tudo isso, precisamos perguntar: avanço para quem? Para o Estado, que transfere sua responsabilidade de garantir segurança para máquinas e algoritmos? Para as empresas, que lucram com nossos dados? Para quem quer arquibancadas silenciosas, controladas, higienizadas? A luta contra a vigilância é a luta pela democracia. O futebol é expressão popular, essencialmente coletiva. E é nesse chão que a democracia se constrói: com liberdade, com pertencimento e com a recusa em ser reduzido a dados e mercadorias.
Referências
[1] ORWELL, George. 1984. Tradução de Paulo Henriques Britto. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
[2] BRASIL. Lei nº 14.597, de 14 de junho de 2023. Lei Geral do Esporte. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 15 jun. 2023.
[3] THATCHER, Margaret. Interview for Woman’s Own. Londres, 23 set. 1987. Disponível em: https://www.margaretthatcher.org/document/106689. Acesso em: 16 abr. 2025.
[4] OLIVEIRA, Márcio Dolzan de. Tragédia no futebol: 30 anos do desastre de Heysel. O Estado de S. Paulo, 28 maio 2015. Disponível em: https://infograficos.estadao.com.br/esportes/tragedia-futebol-30-anos-heysel/. Acesso em: 20 abr. 2025.
[5] BRITANNICA. Hillsborough disaster. Última atualização: 18 abr. 2025. Disponível em: https://www.britannica.com/event/Hillsborough-disaster. Acesso em: 20 abr. 2025.
[6] COWELL, David. Thatcher announces measures to end soccer ‘hooliganism’. UPI Archives, 4 jun. 1985. Disponível em: https://www.upi.com/Archives/1985/06/04/Thatcher-announces-measures-to-end-soccer-hooliganism/8176486705600/. Acesso em: 20 abr. 2025.
[7] TAYLOR, Peter. The Hillsborough Stadium Disaster: 15 April 1989. Inquiry by the Rt Hon Lord Justice Taylor: Final Report. Londres: Her Majesty’s Stationery Office, 1990. Disponível em: https://www.jesip.org.uk/wp-content/uploads/2022/03/Hillsborough-Stadium-Disaster-final-report.pdf. Acesso em: 19 abr. 2025.
[8] KING, Anthony. New directors: A study of English football and its cultural implications. 1997. Disponível em: https://ore.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/10036/69994/King%20New%20Directors.pdf?sequence=1 Acesso em: 19 abr. 2025.
[9] BAUMAN, Zygmunt; LYON, David. Vigilância líquida. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014.
[10] MAGRI, Diogo. Torcidas antifascistas se multiplicam nas arquibancadas do futebol brasileiro. El País Brasil, 25 dez. 2019. Disponível em: https://brasil.elpais.com/esportes/2019-12-25/torcidas-antifascistas-se-multiplicam-nas-arquibancadas-do-futebol-brasileiro.html. Acesso em: 19 abr. 2025.
[11] GLOBOESPORTE.COM. Democracia Corinthiana: quando o Corinthians virou um movimento contra a ditadura militar. São Paulo, 9 jun. 2020. Disponível em: https://ge.globo.com/futebol/times/corinthians/noticia/ultimas-noticias-corinthians-democracia-corinthiana-movimento-contra-ditadura.ghtml. Acesso em: 19 abr. 2025.
[12] MAURER, Janaína. Longe dos estádios, torcedores da Gaviões da Fiel ajudam os impactados pela pandemia. National Geographic Brasil, 23 maio 2021. Disponível em: https://www.nationalgeographicbrasil.com/cultura/2021/05/longe-dos-estadios-torcedores-da-gavioes-da-fiel-ajudam-os-impactados-pela-pandemia. Acesso em: 19 abr. 2025.
[13] SOUZA, Felipe. Atos de torcidas contra Bolsonaro: o que levou as organizadas às ruas contra o presidente durante a pandemia. BBC News Brasil, 2 jun. 2020. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-52899944. Acesso em: 20 abr. 2025.
[14] SOUZA, Beto. O que se sabe sobre briga envolvendo torcedores do Santa Cruz e Sport. CNN Brasil, 3 fev. 2025. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/nordeste/pe/o-que-se-sabe-sobre-briga-envolvendo-torcedores-do-santa-cruz-e-sport/. Acesso em: 20 abr. 2025.
[15] DANTAS, Diogo. MPF investiga omissão da CBF em caso de racismo contra Luighi na Libertadores. O Globo, 21 mar. 2025. Disponível em: https://oglobo.globo.com/blogs/diogo-dantas/coluna/2025/03/mpf-investiga-omissao-da-cbf-em-caso-de-racismo-contra-luighi-na-libertadores.ghtml. Acesso em: 20 abr. 2025.
[16] ARQUIBANCADA NORDESTE. Além de não poder adentrar aos estádios com vestimentas do clube, em jogos como visitantes, os torcedores do Santa Cruz também não podem apoiar. Instagram, março 2025. Disponível em: https://www.instagram.com/arquibancadanordeste/reel/DGaps1-xK1F/. Acesso em: 19 abr. 2025.
[17] SOUSA, Raquel. et al. ESPORTE, DADOS E DIREITOS: O USO DE RECONHECIMENTO FACIAL NOS ESTÁDIOS BRASILEIROS. Rio de Janeiro: CESeC, 2024.
[18] G1. Medo, frustrado e constrangido, diz homem detido por engano em estádio após erro do sistema de reconhecimento facial. G1, 21 abr. 2024. Disponível em: https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2024/04/21/medo-frustrado-e-constrangido-diz-homem-detido-por-engano-em-estadio-apos-erro-do-sistema-de-reconhecimento-facial.ghtml. Acesso em: 25 abr. 2025.
[19] BRASIL DE FATO. RJ: jovem negro acusado por reconhecimento facial é inocentado pela terceira vez. Brasil de Fato, Rio de Janeiro, 6 out. 2023. Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2023/10/06/rj-jovem-negro-acusado-por-reconhecimento-facial-e-inocentado-pela-terceira-vez/. Acesso em: 25 abr. 2025.
[20] SUA FOTO NO JOGO. Sua Foto no Jogo. Disponível em: https://www.suafotonojogo.com.br/. Acesso em: 25 abr. 2025.


